Planeta Verde
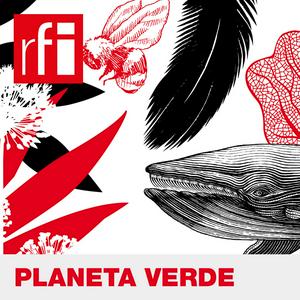
Último episódio
46 episódios
- “Toda manhã, acordo com a minha ‘ameacinha' de morte me esperando.” O tom é de brincadeira, mas o ódio na internet virou caso de polícia na vida do engenheiro agrônomo francês Serge Zaka. Há cerca de 10 anos, ele compartilha nas redes sociais os conhecimentos de agroclimatologista para ajudar os produtores rurais a se adaptarem às mudanças climáticas. Jamais imaginou que os seus vídeos o tornariam um alvo dos negacionistas climáticos, ao ponto de precisar de proteção.
Lúcia Müzell, da RFI em Paris
Em 2025, o assédio virtual disparou, de internautas não só da própria França, como de endereços nos Estados Unidos e em países de influência russa. Zaka não acredita em um acaso: a situação piorou após a volta de Donald Trump à presidência americana, impulsionando o discurso contrário à ciência e, em especial, à proteção do meio ambiente. Hoje, o agrônomo vive sob proteção policial, na região de Montpellier, no sul do país.
“Chegamos neste ponto. Até na Europa, tem um tipo de ‘trumpização’, digamos, da ciência. Passamos para uma era da pós-verdade, na qual colocamos as emoções à frente dos fatos científicos”, resume. “Recebi ameaças de morte, acusações racistas, ameaças de estupro. Cheguei a receber ameaças sobre minha aparência, por usar um chapéu de cowboy. Virou quase uma rotina”, conta o engenheiro agrônomo.
A paixão por fotografar trovões levou Zaka, doutor em biologia, a se especializar em uma área pouco conhecida, mas cada vez mais importante para o futuro da agricultura face às mudanças climáticas. A agroclimatologia estuda as interações entre o clima e as atividades produtivas no campo.
Nas redes sociais, o especialista tem milhares de seguidores interessados nos seus conselhos sobre como preparar a agricultura francesa ao aumento dos fenômenos extremos, como as secas e enchentes.
“É sobre como a gente se prepara até 2050 ou até 2070 face às mudanças climáticas, conforme a região. Preciso trocar espécies? Devo começar a plantar espécies tropicais na Europa?”, exemplifica. “Devo preparar os meus consumidores a novos gostos, novas cores dos produtos no mercado? Os agricultores são muito abertos a essas discussões porque estão particularmente afetados pelas mudanças do clima, afinal isso mexe com o bolso deles”, aponta.
Vinho, legumes: agricultura francesa já sofre consequências
Na França, as alterações climáticas já viram do avesso uma das culturas agrícolas mais tradicionais, a do vinho. As temperaturas mais quentes obrigam os produtores do sul do país a planejarem sistemas de irrigação, até pouco tempo atrás dispensáveis. Com frequência, as colheitas da uva precisam ser antecipadas e até as zonas geográficas históricas de produção, como a Borgonha, estão ameaçadas.
Em 2025, os prejuízos relacionados a duas ondas de calor custaram € 10 bilhões à agricultura francesa, segundo um relatório da universidade alemã de Mannheim sobre as perdas do setor em toda a Europa. A França foi o terceiro país mais atingido, depois da Espanha e da Itália.
Os produtores de legumes e hortaliças também buscam caminhos de adaptação. Os invernos mais brandos e curtos levam ao amadurecimento precoce das plantas – que ficam desprotegidas em caso de uma onda de frio tardia.
“Eu saliento que as mudanças climáticas são um fato. Não tem nenhuma discussão sobre o aumento da temperatura ou as mudanças das precipitações, afinal elas estão [sendo] medidas por dezenas de milhares de estações meteorológicas no nosso país”, frisa o produtor de conteúdo. “Mas não é só isso: temos as datas de florescimento das plantas, a migração dos pássaros, o início do canto das cigarras, que também mudou. Não são medidas humanas, mas medidas ambientais que estão se alterando progressivamente.”
Tratamento dos solos na Europa ou no Brasil
Para enfrentar esta nova realidade, o setor vai precisar dar mais atenção ao tratamento dos solos, afirma Serge Zaka. As zonas suscetíveis às ondas de calor precisarão pensar em técnicas de estocagem da água, enquanto aquelas onde as chuvas aumentarão deverão planejar melhor o escoamento da água – que, quando acumulada, leva ao aumento das pragas nas lavouras.
Por outro lado, novas culturas favorecidas pelas altas temperaturas, como oliveiras e frutas, poderão ser expandidas no país, aconselha o agroclimatologista. O francês também está de olho nas mudanças no restante da Europa e até mesmo além das fronteiras do continente.
“Para os agricultores brasileiros, os princípios são praticamente os mesmos. Precisaremos trabalhar no mapeamento das áreas de distribuição das culturas: no Brasil, algumas migrarão para o sul, para longe dos trópicos”, afirma. “Prestem muita atenção ao solo, porque haverá tanto excesso, quanto escassez de água. E ao avançarem pouco a pouco sobre a floresta tropical, vocês estão não apenas alterando o ciclo global do carbono, mas também estão ressecando os campos e se tornando, vocês próprios, mais vulneráveis às mudanças climáticas”, salienta.
A vegetalização das áreas rurais, importante solução natural para o enfrentamento do calor e a resiliência dos solos, é um conselho que hoje vale para grande parte do mundo, ressalta o especialista. As pesquisas em genética e o uso das ferramentas digitais também podem ser aliadas valiosas contra uma crise que só tende a se agravar nas próximas décadas.
“As ameaças passam por cima do meu chapéu, como dizemos em francês. Eu não ligo, porque a partir do momento em que eu toco e incomodo pessoas que não concordam comigo, é porque o meu objetivo está sendo cumprido”, diz Zaka. “Pelo contrário, tudo isso me dá mais visibilidade nos algoritmos das redes sociais e na mídia. E tem o efeito oposto do que eles querem: em vez de me silenciar, eles acabam me promovendo.” - As geleiras guardam a memória da evolução do clima no planeta – mas estão ameaçadas pelo aquecimento global. Na Antártida, pesquisadores de 13 países – inclusive do Brasil – começaram a abastecer o primeiro acervo glacial do mundo, para garantir a preservação desse patrimônio natural para as futuras gerações.
Lúcia Müzell, da RFI em Paris
As amostras que inauguraram o Santuário da Memória do Gelo (Ice Memory Sanctuary), instalado na base científica franco-italiana Concordia, foram retiradas dos Alpes. O primeiro cilindro, de 128 metros, saiu do Mont Blanc, na França, e o segundo, de 99 metros, foi extraído do Grand Combin, na Suíça.
A prioridade é resguardar vestígios das geleiras que provavelmente não resistirão até o fim deste século, destruídas pelo aumento da temperatura média da Terra.
"Os cilindros de gelo retirados de geleiras ameaçadas de desaparecer serão conservadas na Concordia pelas próximas décadas e séculos à frente, para estarem disponíveis para as futuras gerações de cientistas, quando essas geleiras, infelizmente, terão derretido”, indica o biologista Jérôme Fort, vice-presidente da Fundação Ice Memory e diretor de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS), da França.
"Elas serão um rastro da história do nosso planeta: são arquivos extraordinários não só da história do clima, como da vida na Terra.”
'Balão' gigante formou a caverna de gelo
O transporte da Europa até o polo sul foi quase uma operação de guerra: os cilindros precisaram ser mantidos a -20 °C durante todo o trajeto, que durou 50 dias. A chegada ocorreu no último dia 14.
O santuário das geleiras, a 3,2 mil metros de altitude, é um projeto ambicioso, iniciado em 2015. O local foi construído todo em gelo, praticamente sem necessidade de outras infraestruturas, à exceção de uma espécie de balão gigante que serviu de fôrma para a caverna, agora transformada em “biblioteca do gelo”. A estrutura tem 35 metros de comprimento e fica a 9 metros abaixo da superfície.
A temperatura constante de -54 °C no local permitirá preservar os cilindros por pelo menos 24 anos. Depois, a pressão do gelo tende a começar a deformar a caverna, e será preciso construir uma nova.
Geleiras da América do Sul estão entre as mais ameaçadas
Entre os pesquisadores que participam do projeto, tem um brasileiro: Jefferson Simões, diretor do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro da Academia Brasileira de Ciências e com 29 viagens à Antártida no currículo, Simões é o primeiro glaciólogo do país.
"O que nós estamos vendo, ao longo das últimas quatro décadas, é o derretimento principalmente das geleiras não polares. São as que estão nos trópicos, nas regiões temperadas, a exemplo dos Andes, dos Alpes, das Montanhas Rochosas e do Himalaia”, afirma. As da Venezuela já não existem mais, e outras desaparecerão em poucos anos, como as das montanhas Rwenzori, na África Central.
"As geleiras, como um todo, guardam um registro muito importante. Elas são formadas pela acumulação, ao longo de milhares de anos, de cristais de neve, que, ao precipitarem-se e se acumularem, com o passar do tempo, carregam todas as características da atmosfera no momento em que se formaram”, sublinha Simões.
Importância para a compreensão do aquecimento global
O glaciólogo destaca a contribuição das geleiras para a paleoclimatologia, o estudo do passado do clima e de suas variações. Esses registros foram fundamentais para a descoberta e comprovação do aquecimento global.
A análise das bolhas de ar retidas no gelo, ao longo de 800 mil anos, levou os cientistas a identificarem o acúmulo anormal de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) na atmosfera – os principais gases de efeito estufa.
"Foi ali que nós demos as evidências de que esses gases atingiram, nos séculos 20 e 21, uma concentração nunca antes vista”, ressalta.
Simões é o representante brasileiro no Comitê Científico de Pesquisa Antártica do Conselho Internacional para a Ciência (ICSU), onde é um dos coordenadores de projetos de “perfuração de gelo não polar”. Ele participou das operações de captura de uma amostra na geleira Illimani, na Bolívia, que está sendo transportada para o Ice Memory Sanctuary. No futuro, a meta é coletar cilindros de outras partes dos Andes, como da calota de gelo Quelccaya, no Peru.
"Nos trópicos, no Peru e na Bolívia, elas estão derretendo mais rapidamente e guardam registros, por exemplo, da história da química da atmosfera da Amazônia. Essa é uma das áreas pelas quais nós temos muito interesse, para reconstruir a história não só das queimadas e das mudanças do ciclo hidrológico, como também a história das culturas pré-colombianas”, salienta o pesquisador.
Acervo com 20 amostras
Além da amostra de Illimani, devem chegar nos próximos meses ao Ice Memory cilindros já recolhidos em Svalbard, no mar da Groenlândia, no Cáucaso e nas montanhas de Pamir, no Tajiquistão. No total, 20 amostras farão parte do acervo.
Segundo projeções dos cientistas, metade das geleiras do mundo terá desaparecido até 2100. "Desde 1975, as geleiras perderam mais de 9 trilhões de toneladas de gelo, o equivalente a um bloco do tamanho da Alemanha, com 25 metros de espessura", observou Celeste Saulo, secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, na inauguração do projeto.
O Ice Memory custou € 10 milhões nesses primeiros 10 anos, a maior parte financiados por fundos públicos de instituições científicas, e cerca de um terço por organizações filantrópicas.
* Colaborou Géraud Bosman-Delzons, da RFI - O esvaziamento da Moratória da Soja no Brasil, instrumento multissetorial de controle do plantio sobre áreas desmatadas, aumenta o desafio do país para garantir a sustentabilidade da produção brasileira. Depois de anos de pressão de ruralistas e do governo de Mato Grosso para derrubar o acordo privado, as principais exportadoras de grãos anunciaram a sua retirada do dispositivo, firmado em 2006.
Lúcia Müzell, da RFI em Paris
Desde então, a moratória era complementar a outras medidas de controle do desmatamento da Amazônia, sob pressão pelo avanço das lavouras da leguminosa. O dispositivo voluntário uniu governos, empresas e sociedade civil no compromisso de não comercializar soja plantada em áreas de floresta derrubada depois de 2008 – ano de referência do Código Florestal, aprovado mais tarde, em 2012.
Os dados de queda da devastação comprovam a eficiência da medida, salienta Lisandro Inakake, gerente de Políticas Públicas do Imaflora, entidade que promove a agricultura sustentável.
“A partir de 2009 até 2022, o desmatamento associado à soja teve uma queda de 69%, em média. O esvaziamento pode enviar sinais ao setor produtivo, à fronteira agrícola brasileira que está em expansão, de que não temos mais este instrumento e, então, podemos fazer um processo de novas ocupações”, teme.
Há 20 anos, as ferramentas tecnológicas de monitoramento do desmatamento eram menos eficientes, levando o setor privado a adotar mecanismos próprios para atender ao mercado internacional e, especificamente, o europeu, cada vez mais exigente do ponto de vista ambiental. Nos últimos anos, entretanto, esses padrões passaram a ser incorporados às novas legislações dos países e aos tratados internacionais de comércio, pondera o advogado Leonardo Munoz, especialista da FGV em Direito Ambiental.
“Não é que a Moratória da Soja morreu. Ela foi incorporada em normas. Estamos vivendo uma fase de transição de como vamos comprovar que aqueles produtos não vêm de terras desmatadas”, afirma. “Em vez de termos um acordo comercial, eu terei Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a rastreabilidade. O problema é que a moratória terceirizava a fiscalização para o setor privado. Com a lei, essa fiscalização recai também sobre o Estado – e é aí que a coisa complica, porque nisso o Brasil sempre pecou.”
Abiove e principais traders saíram do acordo
O acordo incluía entidades poderosas como a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), que reúne gigantes mundiais do setor como Cargill, Bunge e Amaggi. Mas a entrada em vigor de uma lei estadual – depois de uma batalha judicial no Supremo Tribunal Federal – agora bloqueia o acesso a benefícios fiscais aos aderentes, causando a debandada dos signatários.
O governo de Mato Grosso, maior produtor do país, e entidades ruralistas alegam que a moratória era mais rigorosa que o Código Florestal, ao impedir o plantio de soja inclusive nos limites estabelecidos pela legislação brasileira. O texto federal permite o desmatamento de até 20% da área de uma propriedade.
Entidades ambientalistas, como o Greenpeace, criticaram a decisão, afirmando que “a Abiove e suas associadas optaram por abrir mão de um compromisso que ajudou a reduzir o desmatamento na Amazônia em troca de preservar seus benefícios fiscais”. Em nota, a WWF-Brasil afirmou que o esvaziamento do acordo “configura um retrocesso grave e injustificável para o setor privado e para o Brasil”. “A decisão dessas empresas enfraquece um dos instrumentos mais eficazes de combate ao desmatamento no país e expõe o próprio agronegócio a riscos crescentes”, completou o texto.
“O Estado perde um aliado nessa agenda política ambiental. Sozinha, a moratória não resolve, e o Estado brasileiro continua sob muita pressão, buscando atingir as suas metas de reduzir entre 59 e 60% as emissões de gases de efeito estufa até 2035 e de desmatamento zero até 2030”, salienta Lisandro Inakake, do Imaflora. “Se você tem um sinal de que se perdeu um instrumento de ordenamento e controle dessa expansão [da agricultura em direção à floresta], isso compromete as nossas metas. Eu acredito que os resultados podem ser atingidos, mas a gente precisa de uma agenda de implementação da política ambiental brasileira.”
Exigências europeias vão aumentar
A retirada da Abiove ocorreu dias antes da aprovação do acordo comercial entre os países do Mercosul e da União Europeia, apesar da forte pressão de agricultores e ecologistas europeus para que o tratado fosse recusado pelo bloco. No fim deste ano, também deve entrar em vigor a EUDR, a nova lei antidesmatamento da União Europeia, que exigirá dos produtos importados pelo bloco os mesmos critérios ambientais da produção na Europa.
“Eu não vejo mais razão, do ponto de vista regulatório e racional, de se cobrar pela moratória se a agenda já está de olho na EUDR. Está todo mundo preocupado com rastreabilidade e com o marco temporal de 2020 que ele estabelece”, observa Leonardo Munoz. “Isso é um movimento positivo que a União Europeia está puxando: quando ela estatiza os padrões voluntários ambientais, em normas, ela unifica vários padrões de preservação. Para o comércio internacional, é muito melhor e muito mais previsível.”
O advogado salienta que aumentará o peso da responsabilidade do governo brasileiro no controle da cadeia produtiva, incluindo mais eficiência na gestão e validação dos Cadastros Ambientais Rurais e regularização de passivos ambientais. Para que a credibilidade do país como exportador não seja abalada, as taxas de desmatamento deverão permanecer baixas, mesmo com o fim da moratória.
“Não vai ser meramente verificar se vem de um polígono desmatado ou não: eu vou ter que fazer toda a rastreabilidade do grão. Teremos que ver a logística, ter tecnologias”, destaca. “O Prodes e o Deter não são suficientes. Eles serão mais um instrumento, junto com o CAR, para oferecer a rastreabilidade do grão. Para atender à EUDR, a lição de casa do Estado acabou aumentando.” - A entrada em vigor de um novo sistema de controle de emissões de gases de efeito estufa dos produtos importados pelos países europeus, com um imposto compensatório, coloca lenha no debate sobre a ambição climática virar instrumento de protecionismo disfarçado. O Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês), adotado há dois anos pela União Europeia, passou a operar neste 1º de janeiro de 2026, após uma fase de implementação.
Lúcia Müzell, da RFI em Paris
O instrumento passa a taxar as importações de bens industriais altamente emissores de CO2, como aço, alumínio, cimento e fertilizantes, entre outros, quando já não são precificados no país exportador. Este é o caso da maioria das nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que ainda não dispõem de seus próprios mecanismos para medir e taxar o carbono – instrumentos complexos e onerosos.
A perspectiva de entrada em vigor do CBAM foi um dos principais focos de bloqueio da Conferência do Clima de Belém (COP30), depois de causar tensões ao longo do ano entre os europeus e potências emergentes, como China e Índia, grandes produtoras de matérias-primas. Os países do Brics “rechaçaram medidas protecionistas unilaterais, sob pretexto de preocupações ambientais”.
“Não dá para definir como um mecanismo só bom para o clima, ou só protecionista. Acho que ele é as duas coisas”, avalia o advogado Lucas Biasetton, especialista em regulações climáticas internacionais. “Mas sempre que a União Europeia impõe alguma nova normativa, ocorre o que chamamos de “efeito Bruxelas”: acaba tendo efeitos indiretos em outros países que se espelham nas normas europeias. Aqueles que exportam para a União Europeia terão que se adaptar e entender que o custo do carbono vai passar a ser considerado.”
Passo seguinte do mercado europeu de CO2
A UE argumenta que o CBAM, integrante do plano Fit for 55 de descarbonização do bloco, representa o próximo passo de seu mercado de emissões (EU ETS), pelo qual as indústrias já pagam pelo carbono gerado em suas atividades . O sistema existe há 20 anos, mas previa isenções a alguns dos setores industriais mais emissores. Essas gratuidades agora serão progressivamente canceladas.
O novo mecanismo vai aplicar progressivamente aos produtos importados o mesmo preço do CO2 emitido que os europeus já pagam ou passarão a pagar no mercado interno. Também visa evitar o “vazamento de carbono”, ou seja, que as empresas passem a produzir em países onde as regras de emissões são mais brandas.
Pierre Leturcq, diretor do programa Desafios Globais do Instituto de Políticas Ambientais Europeias (IEEP), em Bruxelas, salienta que o CBAM vai atingir principalmente as fabricantes do próprio bloco.
“Teremos a diminuição das isenções para as indústrias mais poluentes da União Europeia, só que algumas delas são grandes emissoras de CO2 e estão, ao mesmo tempo, muito expostas ao comércio internacional. O aumento do preço do carbono das importações é uma consequência disso”, explica. “Os estudos feitos pela Comissão Europeia mostram que o maior impacto será na própria União Europeia, tanto no preço do carbono, quanto na redução de emissões. No exterior, estes impactos serão marginais.”
O mecanismo, inédito no mundo, expõe os limites das instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), para lidar com questões relacionadas às finanças climáticas. Em novembro, a presidência brasileira da COP30 instituiu um Fórum Integrado de Clima e Comércio para tentar impulsionar discussões formais entre os países, na tentativa de equilibrar as transações entre, de um lado, nações desenvolvidas que aplicam políticas climáticas cada vez mais restritivas e, de outro, economias que ainda estão se desenvolvendo. Mas a adesão a este novo instrumento, que se soma a outros já existentes, é incerta.
“O CBAM não é uma medida ideal, mas é a medida possível, na ausência de acordos setoriais e plurilaterais de redução de emissões para o aço ou o alumínio. Sequer temos um preço mundial do CO2 e provavelmente nunca teremos, porque, para muitos países do mundo, não faz sentido taxar o carbono”, observa Leturcq.
Recursos ficarão na UE
As críticas ao mecanismo ocorrem num contexto em que o financiamento para as medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças do clima nos países pobres continua insuficiente. Ao mesmo tempo, as receitas do novo imposto europeu, estimadas em € 1,4 bilhão por ano, serão incluídas no orçamento do próprio bloco, e não direcionadas a promover a economia de baixo carbono nos países menos desenvolvidos.
“Para que o mecanismo seja compatível com o direito internacional e em particular com o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre os países ricos e pobres, ele não pode ser um instrumento para financiar o orçamento europeu. Nós defendemos que os recursos sejam automaticamente direcionados a fundos internacionais de descarbonização”, alega o pesquisador do IEEP.
A adaptação ao sistema não é fácil nem para os europeus: o cálculo das emissões é sofisticado e exige dados complexos, para os quais podem ser necessárias infraestruturas específicas. A capacidade de absorver este impacto é desigual entre os países mais e menos avançados, assim como entre as pequenas, médias e grandes empresas.
A Comissão Europeia alega que o objetivo do mecanismo é estimular as cadeias altamente emissoras a acelerarem a descarbonização do processo produtivo, inclusive no exterior. Mas a adoção do imposto preocupa os países com forte dependência das exportações para a União Europeia – como Moçambique, que tem o bloco como destino de 85% do seu alumínio.
Pierre Leturcq chama a atenção para o risco de a medida se tornar uma variável de ajuste comercial entre a UE e seus parceiros internacionais – um desvio que abalaria a credibilidade do bloco na agenda climática.
“É preocupante que a Comissão Europeia deixe a porta aberta para um desligamento entre a adoção progressiva do CBAM e o ritmo da redução das isenções dentro do bloco. Isso é muito importante para que o mecanismo seja, de fato, uma medida climática”, frisa. “Ele não pode ser transformado em mera tarifa aduaneira para proteger as indústrias europeias. Isso seria catastrófico.”
Empresas já se adaptam à precificação do CO2
Um relatório publicado em dezembro pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Climate Finance Asia verificou que grandes empresas de países emergentes expostas ao CBAM já se mobilizam para se adaptar, promovendo transformações tecnológicas que reduzam o seu impacto ambiental. O caso da Petrobras, que implementou um preço interno de carbono para orientar decisões de investimentos, é mencionado.
Com o novo mecanismo, a Europa também quer impulsionar a formalização dos dispositivos nacionais de precificação e comércio de carbono. No Brasil, uma das críticas é que o CBAM utiliza metodologias de cálculo próprias já consolidadas no bloco, mas que não necessariamente correspondem à realidade de outros continentes, com configurações climáticas distintas. O potencial de armazenamento de CO2 no solo em países tropicais, por exemplo, é subestimado.
Além disso, na impossibilidade de os exportadores oferecerem números confiáveis e equivalentes, a UE adota valores conservadores de emissões – ou seja, produtores estrangeiros podem ser considerados mais poluentes do que de fato são, mas não conseguem comprovar.
Brasil quer acelerar mercado regulado de carbono
No caso brasileiro, os exportadores terão dificuldades para atestar que utilizam matriz elétrica limpa e poderão ser penalizados. “Esse é o grande problema brasileiro: a energia limpa que a gente produz simplesmente não importa para o volume de emissões que é calculado no Cbam”, destaca Lucas Biasetton. “É natural que, no futuro, quando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões estiver mais consolidado e as empresas começarem a pagar por certificados de emissões, o Brasil pense em formas de fazer com elas não sejam prejudicadas neste cálculo. Mas isso ainda vai levar tempo.”
Em um momento de profunda crise do multilateralismo, o risco de protecionismo climático e a criação de “clubes de carbono”, em que blocos de países com regras e tarifas climáticas próprias comercializam entre si, são preocupações reais, avalia o advogado brasileiro.
“A União Europeia desenhou esse instrumento de uma forma muito unilateral. Alguns países estão começando a criar um imposto de exportação do carbono, para que essa receita fique no seu próprio país. A Índia está em discussões avançadas nesse sentido”, afirma. “Acho que o Cbam é uma consequência natural da decisão da UE de ter um sistema de comércio de emissões, mas o momento em que ele vem é realmente muito ruim e a forma como ele foi construído é muito questionável”, constata Biasetton. Energias renováveis, inteligência artificial, COP30: o que foi notícia em 2025 sobre crise climática
25/12/2025O ano de 2025 teve algumas boas notícias para o meio ambiente, e deixou um gosto de “estamos indo na boa direção, mas ainda falta muito pela frente”. Nesta retrospectiva, a RFI relembra alguns dos fatos mais importantes dos últimos 12 meses.
O ano começou com uma perspectiva nada favorável para o combate às mudanças climáticas: a volta do presidente Donald Trump ao poder, que chegou a dizer que o aquecimento global é "a maior farsa" já promovida na história. Quando o maior emissor histórico de gases de efeito estufa se retira da jogada e congela os investimentos na transição energética, a preocupação era que esse retrocesso se generalizasse no resto do mundo.
Em várias regiões, as populações sentem na pele os impactos do aumento da temperatura na Terra. Gustavo Loiola, especialista em Sustentabilidade e professor convidado em instituições como FGV e PUC-PR, notou que o agronegócio brasileiro, motor da economia do país, não pode mais se dar ao luxo de virar as costas para o assunto.
“Não tem como não falar de clima dentro do agronegócio. O produtor rural é o primeiro a sofrer com a escassez ou o excesso de chuvas e as mudanças climáticas, que acabam afetando a produção”, indicou ele ao podcast Planeta Verde, um mês após a posse de Trump.
“Impacta também o setor financeiro, que oferece crédito para o agronegócio. O risco de emprestar se torna maior, então é ilógico não olhar para esses temas”, acrescentou.
Expansão das renováveis: um caminho sem volta
Quem se deu bem com o recuo americano foi a sua principal concorrente, a China. Pequim já liderava a transição energética e aumentou o impulso a esta agenda mundo afora. A queda dos custos de painéis solares, baterias e outros equipamentos fundamentais para a substituição de fontes de energia altamente poluentes resultou em um ponto de inflexão em 2025: pela primeira vez, a geração de eletricidade global por fontes renováveis ultrapassou a dos combustíveis fósseis, as mais prejudiciais ao planeta.
A Agência Internacional de Energia afirma que o novo recorde de expansão de renováveis será batido este ano, com mais de 750 gigawatts de capacidade adicional, sobretudo solar. Isso significa que o crescimento da demanda mundial de energia elétrica foi, principalmente, atendido por fontes limpas.
Só que este desafio se mede em trilhões de watts: a expectativa é que a demanda mundial energética dispare nos próximos anos, puxada pelo desenvolvimento das tecnologias e, em especial, da inteligência artificial. A poluição digital já respondia por 4% das emissões mundiais de gases de efeito estufa por ano. O aumento das emissões de grandes empresas de tecnologia nos últimos anos comprova essa tendência.
“Já temos um crescimento exponencial só nessa fase de treinamentos dos modelos de IA generativa: do número de placas gráficas utilizadas, do consumo de energia. Portanto, as emissões de gases de efeito estufa estão também em crescimento exponencial, assim como o esgotamento dos recursos abióticos, ou seja, não vivos, segue nessa mesma trajetória”, salientou Aurélie Bugeau, pesquisadora em Informática da Universidade de Bordeaux.
“As empresas alertam que é um verdadeiro desafio para elas conseguirem atingir a neutralidade de carbono que era visada para 2030, afinal a IA traz novos desafios. Por isso é que esse imenso consumo de energia pode levar à reabertura de usinas nucleares, como nos Estados Unidos, sob o impulso da Microsoft”, alertou.
Transição energética para quem?
Em ano de COP30 no Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a RFI também buscou ouvir as populações mais vulneráveis ao aquecimento do planeta. Nos países em desenvolvimento, a corrida pelos minerais críticos, essenciais para a eletrificação das economias – como alumínio, cobalto e lítio – causa apreensão.
Toda essa discussão sobre transição energética, num contexto em que a demanda por energia só aumenta, parece até provocação aos olhos de pessoas como a maranhense Elaine da Silva Barros, integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM). Ela participou das manifestações da sociedade civil à margem da COP30, em Belém, para pedir justiça climática.
"A transição energética não é para nós. O Brasil já se supre e tem uma matriz energética de renováveis”, disse. "Não faz sentido o Brasil ter que mudar a sua matriz energética para que os países europeus e os Estados Unidos possam sair dos combustíveis fósseis. Não faz sentido aumentar a mineração nos nossos territórios e aumentar a expulsão dos nossos povos deles”, argumentou.
O pescador Benedito de Souza Ribeiro, 62 anos, dependeu a vida inteira do rio Amazonas para sobreviver. Ele sente não apenas os impactos das secas, que estão mais frequentes, como vê com preocupação os planos do Brasil de aumentar as exportações de minerais para a transição energética nos países desenvolvidos.
“As grandes indústrias estão se instalando em nossos territórios e expulsando os nossos pescadores da área, os ribeirinhos, que vivem da pesca. Esses empreendimentos causam o aquecimento global”, denunciou. “As barragens e as mineradoras poluem os rios e os peixes, e nós ainda tomamos essa água contaminada. Isso é um prejuízo muito grande para a nossa alimentação.”
COP30 e acordo sobre transição justa
Para não deixar ninguém para trás, a transição energética precisa ser justa. Significa criar oportunidades de trabalho para as pessoas que dependem de setores que serão gradualmente abandonados, distribuir as novas riquezas geradas pela economia de baixo carbono, e não aprofundar as desigualdades. Essa foi uma das principais pautas do Brasil na COP30 e um dos resultados mais concretos do evento, sediado no país em 2025.
A conferência decepcionou pela pouca ambição dos acordos finais, travada entre dois grupos de países com visões opostas sobre o fim da dependência dos combustíveis fósseis, ou seja, o carvão, o petróleo e o gás. “Os resultados estão muito voltados para demandas dos países mais vulneráveis e isso é muito importante porque é uma COP no Brasil, na Amazônia, um país em desenvolvimento. Foi aprovado aqui um programa de trabalho de transição justa, algo que não tinha se conseguido na última COP. Na COP29 não houve acordo”, destacou a negociadora-chefe do Brasil, Liliam Chagas, ao final do evento.
“É uma das questões mais polêmicas, e era uma demanda da sociedade civil de todos os países em desenvolvimento. Esse mecanismo foi instituído, e vai ser um órgão mais permanente para que os países possam recorrer para fazer políticas de transição justa, seja para pessoas ou para infraestrutura”, salientou.
Combate ao desmatamento ameaçado
Internamente, o maior desafio do Brasil é acabar com o desmatamento, que responde por 80% das emissões brasileiras. Neste ano, o país teve bons resultados a comemorar: na Amazônia e no Cerrado, a devastação caiu 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025. Na Amazônia, foi o terceiro menor nível desde 1988.
Este avanço foi apontado por especialistas como uma das principais razões pelas quais o nível mundial de emissões se manteve estável em 2025, em vez de aumentar – como sempre acontece a cada ano.
“O Brasil é, sem dúvida, uma referência, não só por causa da floresta, mas pelo que ele tem em termos de conhecimentos científicos a respeito do tema. O Brasil vem trabalhando com planos de redução do desmatamento desde 2004, com resultados respeitáveis”, aponta Fernanda Carvalho, doutora em Relações Internacionais e diretora de políticas climáticas da organização WWF. “Acho que o Brasil tem condições de ser a grande liderança nesse aspecto. Depende de ter vontade política.”
As divergências políticas internas ameaçam essa trajetória virtuosa. A nova versão da Lei de Licenciamento Ambiental flexibiliza os procedimentos para a liberação de grandes projetos. Na prática, se a lei entrar em vigor, pode fazer o desmatamento voltar a subir no país.
Análises da ONU sobre os compromissos dos países para combater o aquecimento global indicam que o mundo está avançando na direção correta, apesar dos contratempos. No entanto, o ritmo precisa ser acelerado – e a próxima década vai ser crucial para a humanidade conseguir limitar a alta das temperaturas a no máximo 1,5°C até o fim deste século.
Sobre Planeta Verde
Entrevistas sobre todos os temas relacionados ao meio ambiente. Análises sobre os principais desafios no combate ao aquecimento global, à poluição. Iniciativas para proteção dos ecossistemas e reflexão sobre políticas de prevenção de catástrofes naturais e industriais.
Site de podcast